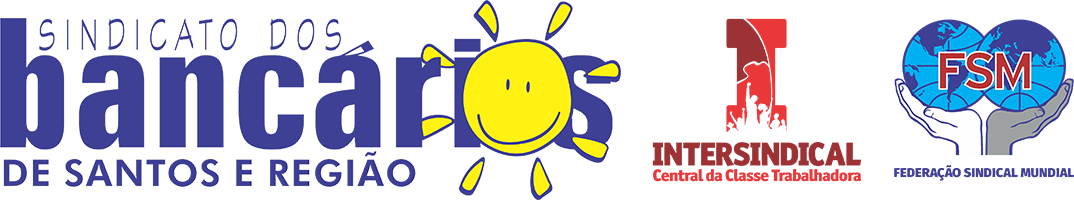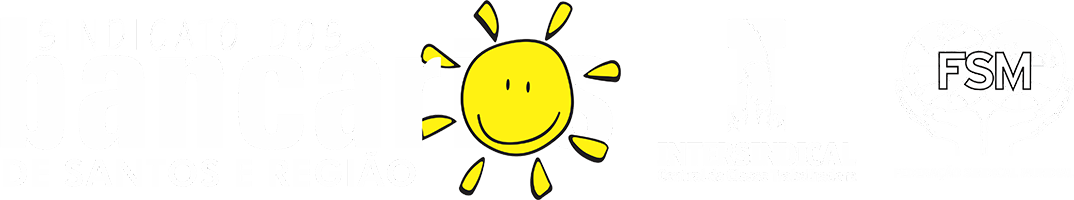O romance póstumo do chileno Roberto Bolaño, “2666”, é arrebatador em suas quase mil páginas. Recusando-se a carregar a placa de latino-americano no pescoço, o autor se tornou um fenômeno mundial.
O escritor chileno Roberto Bolaño (1953-2003) era, na juventude, um exímio ladrão de livrarias. Quando lançou o seu primeiro grande romance, Os Detetives Selvagens, em 1998, pediu desculpas aos seus leitores pelo fato de o livro ser, justamente, grande demais. Com mais de 700 páginas, tratava-se – como observou em uma entrevista – de um tijolo difícil de afanar. Para os gatunos das prateleiras, Bolaño deixou um desafio ainda mais ousado no último livro que escreveu, publicado postumamente. Com previsão de lançamento no Brasil neste mês, o inacabado 2666 é um calhamaço de quase mil páginas que – mais que uma dificuldade para cleptomaníacos – ajudou a transformar Bolaño numa lenda do mundo literário.
Legal ou ilicitamente, Bolaño tem sido avidamente lido e cultuado há mais de uma década, e já era uma estrela literária em espanhol quando foi descoberto por editores internacionais. Publicado em inglês em 2007, Os Detetives Selvagens foi incluído na lista dos melhores do ano dos jornais The New York Times, Los Angeles Times e Washington Post. Mas foi 2666, lançado no ano seguinte, que levou Bolaño a um lugar de destaque no jovem cânone literário do século 21. Foi “o” livro do ano para as revistas americanas Time, Village Voice e Publishers Weekly, entre outras. O jornal Washington Post chegou a comparar o escritor com os mais ambiciosos e pródigos autores do século passado – o irlandês James Joyce, o francês Marcel Proust, o austríaco Robert Musil, o americano Thomas Pynchon. Isso sem contar as pilhas de sites, blogs e comunidades virtuais dedicados ao autor, que se multiplicam até hoje.
A morte por insuficiência hepática, em 2003, impediu Bolaño de desfrutar desse sucesso. Então com 50 anos, e antevendo o fim, trabalhou freneticamente nos seus últimos meses nos manuscritos que viriam a ser 2666. Pensando no sustento da família após sua morte, deixou instruções para que os cinco capítulos do romance fossem publicados separadamente, para otimizar os lucros. Ao ler o texto, porém, seu editor discordou. A viúva, Carolina López, também. E 2666 saiu inteiro num volume só – para tristeza dos ladrões de livros.
Bolaño não conseguiu terminar 2666, mas avançou o suficiente para torná-lo uma das maiores obras inacabadas da literatura universal. “Universal”, aqui, não é exagero. Um dos grandes feitos do chileno foi conseguir – como o argentino Jorge Luis Borges – ir além dos limites autorreferentes da chamada literatura latino-americana. E, por isso mesmo, se tornou a voz literária mais contundente surgida na América Latina nos últimos 40 anos, e a influência mais poderosa sobre uma nova geração também ansiosa por se livrar dos vícios e pequenos circuitos sufocantes que assolam a produção do subcontinente.
No Brasil, o “fenômeno Bolaño” ainda é modesto. Como em muitos países, o autor só foi publicado postumamente, mas sua obra parece marcar a conhecida distância cultural entre nós e a América Hispânica. Não há também registro de passagem do escritor pelo país (sua relação mais próxima com o Brasil é uma anedota provavelmente inventada: ele contou certa vez que defendeu um pênalti do centroavante Vavá quando a Seleção Brasileira se acantonou na vila em que morava, durante a Copa de 1962. Dado que ele era uma criança e Vavá um dos canhões mais potentes do planeta, é de supor que, como goleiro, Bolaño é um ótimo ficcionista). Diante dessa distância – e de tantos superlativos em torno de sua obra no exterior – o leitor brasileiro pode muito bem perguntar: mas afinal, o que é que esse Bolaño tem?
VIDA VAGABUNDA
Como quase todo bom “universal”, Roberto Bolaño teve uma vida marcadamente nômade. Crescido no México, voltou em 1973 ao Chile ainda a tempo de ver o golpe militar de Augusto Pinochet contra o governo socialista de Salvador Allende. Militante de esquerda, quase desapareceu junto com outros milhares após o golpe, mas deu sorte: detido, ficou numa prisão onde dois dos guardas eram amigos de infância. Voltou ao México em 1974, onde se juntou aos infrarealistas, bando de poetas ultravanguardistas em guerra contra o establishment intelectual mexicano, e famosos pelos happenings que aterrorizavam eventos literários.
Em 1977, o escritor foi parar em Barcelona, e pelos quinze anos seguintes ganhou parcamente a vida de poeta maldito como obrero itinerante (porteiro de camping, lixeiro, lavador de pratos) até se ver casado e com um filho no início dos anos 90. Amigos o convenceram então a arriscar-se na prosa para ver se daí saía algum dinheiro, pois poesia não pagava sequer as fraldas.
Primeiro vieram os contos, recebidos com prêmios, boas resenhas e um pequeno círculo de leitores cativos. Em 1996, publicou Literatura Nazi en America — outro livro ainda inédito no Brasil. Trata-se de compêndio apócrifo e hilário de uma absurda produção intelectual de extrema-direita da América Latina. Assim como Borges, Bolaño imagina o absurdo como factível, e todas as suas histórias encaixam-se perfeitamente nos buracos perdidos da História onde são enquadrados. O realismo, aliás, é uma das suas vítimas prediletas. Suas ironias e seu temperamento irritaram o establishment literário à direita e à esquerda, especialmente à esquerda (leia frases nesta e na página seguinte). Mas se tornaram irresistíveis para círculos mais jovens e sedentos de novidades.
Roberto Bolaño vingou toda uma geração que cresceu lendo Pablo Neruda, Octávio Paz, Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa e suas dúzias de discípulos, mas que não se via dentro de nenhum deles. Uma geração de jovens e mentes cheios de futuro, e que foi massacrada pela história (ou pela economia) e que – como ele – acabou lavando pratos na Europa, nos Estados Unidos e até mais longe. Bolaño deu o pontapé que abriu as portas para a fornada de novos escritores que tentam fazer literatura sem ter de carregar a canga do rótulo “made in Latin America” no pescoço.
Ao mesmo tempo, a política não abandona sua obra. Ela, porém, serve apenas de estofo para o ofício mais nobre da literatura. Em Os Detetives Selvagens, por exemplo, Bolaño sobrepôs narradores e narrativas para compor um épico de fundo político/poético com ritmo de thriller. Não há nada mágico em Detetives – a marca do autor encontra-se na ironia. Do trocadilho infame ao sarcasmo mais afiado, a principal vítima dos humores bolañescos é a própria América Latina, com seus monumentos a medíocres exuberantes e o olvido de seus gênios fracassados. Os heróis são marginais incorrigíveis e poetas – às vezes até talentosos, mas frequentemente pífios, ridículos e, claro, fracassados.
A derrota paira sobre cada página. Bolaño não busca motivos para as gerações de fracassos revolucionários, pessoais e coletivos, da América Latina. A ruína dos ideais, das ideologias, do próprio subcontinente como um todo, o eterno ciclo de dominação de caudilhos e canalhas, isso é apenas o ponto de partida. O mundo lá de fora, que se estende muito além da língua, e a literatura como seu espelho, é para onde segue a trilha.
REALISMO ESPATIFADO
Esse espelho, porém, espatifa-se em 2666. Afinal, como pode a literatura, feita de formas e significados, dar conta de uma realidade que não tem forma nem sentido algum? Para ilustrar a tese, Bolaño desdenhou o paraíso e foi direto ao inferno, sem qualquer auxílio de Virgílio – o poeta que conduz Dante Alighieri às profundezas em A Divina Comédia. Localizada na fronteira do México com os Estados Unidos, a fictícia Santa Teresa, cenário principal do livro, tem os contornos da real Ciudad Juárez, onde uma selvagem narcoguerra, atualmente em curso, foi precedida, em termos de notoriedade midiática, pelas centenas de assassinatos brutais de mulheres, jamais desvendados e que assolam a região desde os anos 90.
As hipóteses para esse bizarro fenômeno se perdem no emaranhado de interesses de quadrilhas, tanto criminosas como institucionais, que se misturam na região – como uma orgia ininterrupta usando, abusando e descartando um suprimento abundante de mulheres vulneráveis na fronteira sem lei. O cenário é provavelmente uma das razões do grande interesse despertado nos Estados Unidos. Afinal, a literatura norte-americana ainda não soube fazer face à realidade absurda que se passa na fronteira mexicana, coisa que Bolaño conseguiu antever antes mesmo de a guerra estourar abertamente.
No livro, Santa Teresa é a fronteira extrema do faroeste globalizado para onde os personagens de cada capítulo convergem e mal se cruzam: um pequeno grupo de acadêmicos na trilha de um autor alemão recluso e misterioso; um professor universitário viúvo, exilado da Espanha e desesperançado do México; um repórter negro de Nova York enviado para cobrir uma luta de boxe; um investigador de polícia que mantém um caso amoroso com uma psicóloga enquanto cadáveres de mulheres são desovados no atacado pelos enormes terrenos baldios entre as fábricas maquiladoras que pipocam pela fronteira; e, por fim, um capítulo que nos leva até o front russo da Segunda Guerra Mundial e que promete dar a chave para uma montanha de mistérios, mas só faz espalhar mais uma leva de pistas falsas. Os círculos não se fecham, as histórias são deixadas no ar, mas fica-se com a sensação de que todas elas continuam seguindo seus cursos, e se multiplicando na cabeça como uma desova ininterrupta de cadáveres de mulheres violadas, muito depois da última linha.
Como leitor, a sede de Bolaño não tinha fronteira: americanos, europeus, russos, todo o panteão da literatura ocidental foi devorado pelo chileno magrelo, que também se alimentava de porções generosas de trash. E os poetas malditos de todos os tempos – simbolistas, metafísicos, beatniks. Bolaño dizia não se ver dentro de nenhuma linhagem literária, pois, mesmo alcançando respeito e fama com prosa, morreu se achando poeta.
Em 2666, entretanto, ele não mais dialoga com seus predecessores. Seu interesse é mexer com os pilares da literatura, e superar os limites que modernistas e pós-modernos pareciam haver já estendido ao infinito. Bolaño criou um épico sem heróis, descarnado e desumanizado como a modernidade midiatizada, em que a arte em geral (e a literatura em particular) é a única fonte possível de significados, mesmo que falsos ou enganosos – a realidade, afinal, nem sempre corresponde à verdade. Para quem gosta de arriscar uma descida ao Inferno, Bolaño pode ser um guia muito menos confiável que Virgílio, mas com certeza é bem mais divertido.
Crédito: 670